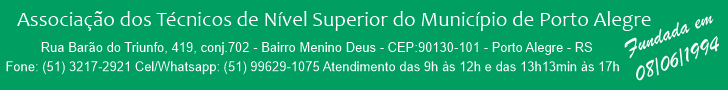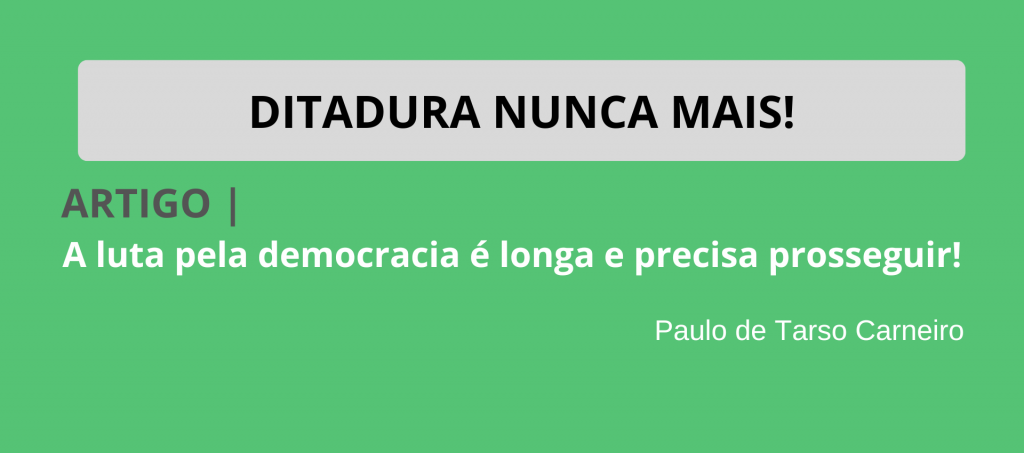

Junho de 1963: Servidor do Sulbanco, um pequeno banco regional, exercia funções burocráticas, em um pequeno espaço, junto com outros dez a doze jovens, todos na faixa de 20 a 25 anos.
Na segunda semana de trabalho, o presidente do Sindicato dos Bancários, João Fabrício de Moraes, chegou em cada uma das mesas para entregar-nos uma proposta de sindicalização e um convite para reuniões na sede da entidade, para discussão da pauta da campanha salarial.
Aceitei de imediato e, à noite, já estava numa das salas do Colégio Anchieta, na rua Duque de Caxias, no centro de Porto Alegre, participando da campanha.
Após as reuniões, embora poucos, saíamos em caminhada pelas ruas centrais, parando, primeiramente, na frente da Cia. Jornalística Caldas Junior, editora dos jornais conservadores Correio do Povo e Folha da Tarde.
A empresa era uma forte opositora do governo João Goulart e defensora do golpe militar que ocorreria em 1° de abril de 1964.
A segunda parada era em frente ao jornal Última Hora, defensor das propostas progressistas de Jango e Brizola.
Diógenes Oliveira, como eu, recém-ingresso no banco, mantivemos presença constante nas reuniões, participávamos das manifestações antigolpe e, pouco a pouco, nos identificamos em ideias e sonhos com um Brasil socialista.
A campanha salarial foi forte, deflagrou uma greve de 16 ou 17 dias de paralisação. Eu tinha cerca de três meses de trabalho e, obviamente, ao final da luta, fui demitido, sem justa causa, pois a greve foi vitoriosa.
Eu ainda era ignorante no conhecimento de teses e projetos de um país independente do imperialismo americano. Embora leitor voraz, buscava na literatura nacional, especialmente Machado de Assis, José de Alencar, Érico Veríssimo, como, também, seguindo orientações dos professores do Julinho (Colégio Estadual Júlio de Castilhos), onde frequentava o curso científico, autores portugueses, franceses, espanhóis.
Frequentando o curso noturno, no Julinho, convivia com militantes do trabalhismo, comunistas do Partido Comunista Brasileiro (PCB) e Partido Comunista do Brasil (PcdoB), Ação Popular e Juventude Estudantil Católica (JEC). Acompanhava os debates, ouvia as divergências, mas Leonel Brizola me entusiasmava mais do que qualquer um deles. Obviamente que revistas, e jornais de esquerda, incluso La Marcha, jornal uruguaio, mereceram minha atenção.
A Revolução Cubana despertou em mim a consciência do significado do socialismo e a independência dos países latino-americanos.
Ao término da campanha, Diógenes, que se diferenciara como um líder, convidou-me para participar de um grupo de discussões na própria sede do sindicato, no Edifício Cacique. Havia outros companheiros, como Hermes, Gilberto, Marcos, e mais uns quatro ou cinco, que não recordo os nomes. Diógenes era o condutor e o mais capacitado para a liderança do grupo.
A pauta era a preparação para enfrentar o golpe, cujos proponentes tinham presença forte na mídia conservadora e reacionária, apoio da cúpula da Igreja Católica, usando como argumento a ameaça do comunismo. Destituir Jango e impedir as reformas de base, projeto progressistas muito importantes para os trabalhadores do campo e da cidade, em todo o País.
Brizola não se calava e era a voz mais importante para esclarecer e organizar o povo numa tentativa de impedir o golpe.
Como instrumento de resistência, propôs a organização do povo em grupos de onze. Diversos grupos surgiram em todo o País, principalmente no Rio Grande do Sul.
Diante do fato, surgiu a necessidade de uma direção-geral com a finalidade de orientar e conduzir esses grupos. Diógenes, com sua capacidade de direção, tornou-se um porta-voz dessa proposta. Contatava líderes do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e os convidava para dialogarem conosco.
Mas, o golpe andava mais célere do que a resistência popular.
Nossas reuniões ocorriam na biblioteca do Sindicato dos Bancários e Diógenes nos orientava a não assinarmos listas de presenças ao adentrarmos na sede. Tinha razão. As listas desapareceram assim que o golpe foi anunciado e quem assinou foi convocado para depor.
O sindicato foi invadido e nós nos afastamos, buscando outros lugares para nos reunirmos. Mas não deixamos de participar da resistência nas ruas centrais de Porto Alegre.
Distribuíamos panfletos contra a ditadura que se instalava e buscávamos diversos modos de ações. O Grupo de Operações Especiais (GOE), cujos integrantes eram conhecidos como cardeais, devido ao capacete vermelho que usavam, com porretes nas mãos, agia para impedir qualquer aglomeração que julgasse ser de oponentes do regime.
Não diferenciavam os alvos – mulheres, crianças, idosos, todos sofriam as agressões dos policiais. Filas de passageiros esperando ônibus ou bondes, filas de ingressos em cinemas na região central, eram atacados pelos ferozes cardeais.
Nossos locais de encontro foram alterados. Residências, praças, bares, passaram a ser pontos para discussões e reuniões rápidas. Senhas para encontros, codinomes, tarefas, foram incluídas em nosso cotidiano.
Para aquele jovem iniciante, o ingresso na militância clandestina, mantida em sigilo, era uma nova vida.
Organizar partidas de futebol em praças, com licença prévia da prefeitura, era um dos álibis para nos reunirmos.
Alguns parceiros se afastaram. Principalmente, quando Diógenes propôs a formação de um grupo para uma tarefa militarista que exigia de seus participantes experiências mínimas como uso de armas, fato que, de imediato, distanciou a maioria.
Evidente que era um teste utilizado pelo companheiro Diógenes para saber quem estava disposto a lutar.
Eu refutei a tarefa, embora tivesse, dois anos antes, sido treinado, como soldado, na 6° Companhia de Polícia do Exército. Sabia que, além de mim e do próprio Diógenes, os demais nunca haviam utilizado um revólver.
Ademais, entendia que era possível construirmos uma oposição pacífica à ditadura que se instalara.
Estava errado.
Em 1968, após participar, e ser preso, no XXX Congresso da UNE, em Ibiúna-SP, é que modifiquei meu entendimento. Não via mais chances de sermos oposição sem armas.
O terrorismo de Estado se instalara. Não foi suficiente para os militares o fechamento de centros acadêmicos, sindicatos, dos partidos políticos. As prisões e a tortura se tornaram cotidianas e permanentes. A resistência armada era a única alternativa.
Em 1966/67, assumi como funcionário do Banco do Brasil, em Garibaldi, no interior do Rio Grande do Sul.
Aproveitei a proximidade e resolvi ingressar no curso de Filosofia, da Universidade de Caxias do Sul. Com Gerhard Bornhein, Isidoro Zorzi, Jaime Paviani e outros, como professores, foram importantes para que entendesse melhor o significado do materialismo histórico, das guerras pelo poder, das relações sociais e econômicas entre as classes sociais e, principalmente, do significado do imperialismo americano.
Os movimentos estudantis, na Europa e no Brasil, as resistências armadas em diversos países latino-americanos, as lutas pela independência de países africanos, ainda subjugados pelos países europeus, associados ao avanço do terrorismo de Estado no Brasil, me impediam de continuar acreditando que o tempo da ditadura seria curto, que a sociedade civil impediria o avanço da barbárie, que a democracia seria restituída ao povo brasileiro sem derramamento de sangue.
Assim, aceitei a indicação de colegas da Faculdade de Filosofia e, junto com mais uma companheira, participaríamos do XXX Congresso Nacional da UNE, em Ibiúna.
A ditadura militar considerou uma afronta que mais de mil estudantes discutissem, de forma pacífica, o seu próprio futuro. Cercados pela Polícia Militar de São Paulo, fomos conduzidos para o Presídio Tiradentes, onde permanecemos por uma semana.
As discussões internas, entre as diferentes correntes políticas presentes no Congresso, associada à intervenção das forças de repressão, me convenceram que, diante do terrorismo do Estado, só nos restavam as ações armadas.
No meu retorno a Porto Alegre, já estava definido que participaria da resistência armada. Contatei Carlos Araújo, me engajei na Var-Palmares.
Em 1970, fui sequestrado dentro da agência do Banco do Brasil, em Garibaldi, sofrendo todas as consequências de um processo cujo objetivo era a destruição moral, psíquica e, mesmo, física, dos combatentes revolucionários.
Mantido preso por um ano, fui demitido por justa causa, por atos contra o regime militar.
Não desisti da luta. Acompanhava o movimento político nacional, auxiliava na saída de companheiros do Brasil, rumo ao Chile, de Allende, contatava companheiros que não tinham sido presos.
Em 1976, já me engajava em organização clandestina para continuar lutando por democracia e socialismo.
***
Fortaleça a Astec!
ASTEC – Diretoria Executiva 2023/2024
DEMOCRACIA, RESISTÊNCIA & UNIÃO
 Astec Associação dos Técnicos de Nivel Superior do Município de Porto Alegre
Astec Associação dos Técnicos de Nivel Superior do Município de Porto Alegre