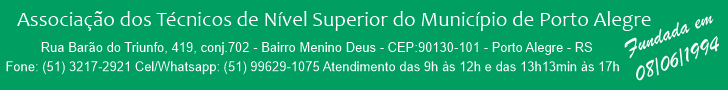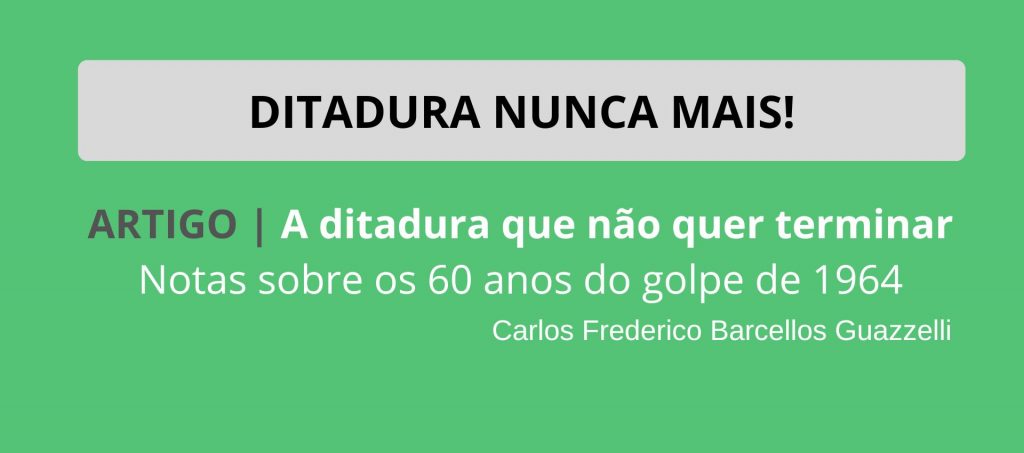

Introdução
O transcurso, no próximo dia 1º de abril, de sessenta anos da instalação da ditadura civil-militar que perdurou por mais de duas décadas no País, enseja reflexão mais do que oportuna sobre este período, especialmente em face dos acontecimentos recentes de nossa história política – anteriores à eleição à Presidência da República, durante e após o governo de alguém que jamais escondeu, antes sempre proclamou, sua admiração por aquele regime, por seus dirigentes e, mesmo, por alguns de seus personagens mais abjetos.
Refletir sobre o passado para entender o presente e descortinar os cenários futuros, mais do que a repetição de um truísmo, revela-se neste caso uma verdadeira necessidade, na tarefa de descobrir os sentidos, evidentes ou ocultos, de nossa trajetória presente, como nação e sociedade. Ainda mais quando deste exercício de memória, procedido à luz da razão e da experiência histórica, podem brotar algumas das causas explicativas do momento tremendo que vivemos hoje – quando a cidadania consciente ainda se vê perplexa diante da emergência de parcelas expressivas da população lideradas por uma “personalidade fascista”, conceito cunhado por Umberto Eco em seu já clássico “O fascismo eterno”.
Ademais, a reconstituição histórica das condições e circunstâncias em que se gestou e desenvolveu o regime ditatorial, inaugurado com o golpe de estado deflagrado há seis décadas – aí incluídas também e, sobretudo a forma como foi encaminhado seu desfecho, até a “redemocratização” – será útil, por certo, para a compreensão de que o atraso e as deficiências do processo de justiça de transição, entre nós, constituem-se em fator decisivo para a recente vitória eleitoral obtida por uma direita atrasada e truculenta, e das sérias ameaças por ela representadas até hoje à democracia brasileira, mesmo depois de derrotada em 2022.
Por fim, o apanhado contextualizado dos principais acontecimentos que marcaram a ditadura civil-militar de 1964-1985, e seus desdobramentos nas décadas seguintes, servirá para identificar a presença de seu mais perverso legado – a presença, ainda hoje, de ideologias, instituições e práticas nela gestadas, e que continuam a infelicitar a grande maioria de nosso povo, de modo especial suas camadas mais desfavorecidas.
Os antecedentes do golpe de 64 e os golpes antecedentes e abortados
O golpe de estado que redundou, no dia 1º de abril de 1964, na derrubada do governo legítimo de João Goulart, resultou do processo de crescente e agudo conflito político, que marcou praticamente todo o período democrático iniciado no pós-guerra, com o fim do Estado Novo e a promulgação da Constituição de 1946. Desde então, tendo por pano de fundo a “guerra fria”, foi-se criando e ampliando um ambiente de forte radicalização política e ideológica, ao longo dos anos 1950 e início dos anos 1960.
Constituíram-se então dois campos políticos opostos, e a luta pelo poder entre ambos levou a graves crises no período. Do lado da direita, perfilavam-se as oligarquias rurais e as burguesias industrial, comercial e financeira, com respaldo em parcela dos setores médios, articulada por forte discurso midiático anticomunista. Os líderes civis e militares desta facção tentaram sem sucesso derrubar os governos adversários – o de Getúlio Vargas em 1954; o de Juscelino Kubitschek, recém eleito, em 1955; e impedir a posse do Vice-Presidente, Jango, em razão da renúncia de Jânio Quadros, em 1961.
Houve também, ainda no governo de Juscelino, duas quarteladas promovidas por oficiais da Aeronáutica, ambas igualmente frustradas. De todos estes episódios, tirante o suicídio de Vargas – que adiou por dez anos o triunfo dos golpistas – o mais marcante foi a “Campanha da Legalidade”, como foi chamado o movimento popular liderado pelo então Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Leonel de Moura Brizola.
Cabe recordar que, quando o Presidente Jânio renunciou, no final de agosto de 1961 – episódio nunca bem esclarecido, provavelmente uma tentativa mal sucedida de “auto-golpe” – deveria ser sucedido pelo Vice-Presidente, que fora eleito com ele, um ano antes, por partido diverso, já que a eleição para os dois cargos admitia à época a votação avulsa, a cada candidato separadamente. No entanto, prevalecendo-se de que Goulart estava em visita oficial na China, a oposição parlamentar, com apoio da maior parte da mídia e das Forças Armadas, articulou-se para declarar vago o cargo e assim consumar aquilo que os estudiosos convencionaram chamar de “golpe branco”.
Foi aí que o Governador rio-grandense, vislumbrando a manobra golpista que se armava, num gesto de grande coragem política e pessoal, mobilizou contra ela a opinião pública do Estado e do País. Para tanto, requisitou e usou emissora de rádio de grande potência, armou a Brigada Militar, força estadual, e desde o Palácio Piratini – apoiado pela impressionante massa que tomou a Praça da Matriz em seu apoio – instou a população e as autoridades a resistir e garantir a posse do sucessor legítimo do Presidente que renunciara.
Diante da firme oposição iniciada por Brizola, à qual aderiram outros Governadores e políticos e, inclusive, o Comandante do III Exército (que chefiava a maior guarnição da Força Terrestre, sediada nos Estados do Sul), o Parlamento tratou de superar a crise por meio da adoção de Emenda Constitucional, instituindo o regime parlamentarista. Com isso, se de uma parte se permitiu a posse de Jango, de outra a instituição deste “parlamentarismo de ocasião” visava claramente esvaziar seu governo, retirando-lhe força para implantar seu programa reformista.
O governo de João Goulart
Em decorrência, ele assumiu a Presidência da República com poderes limitados, e depois da gestão de três primeiro-ministros, que conduziam o Executivo Federal, João Goulart buscou e obteve, em 1963, uma estrondosa vitória em plebiscito destinado precipuamente à escolha do regime de governo: a ampla maioria do eleitorado optou pela volta do presidencialismo.
Assim, adotado este regime novamente, pôde então o Presidente dedicar-se à implementação das chamadas “reformas de base” – a saber, as reformas constitucional, política, agrária e tributária.
Nessa empreitada, ele galvanizava as forças populares e progressistas: do operariado sindicalizado, ao campesinato, passando por parte das classes médias. Os partidos de esquerda – legais e clandestinos – os sindicatos e movimentos sociais, além dos contingentes subalternos das Forças Armadas, organizados em suas associações, não somente se mobilizavam em defesa do governo, como também o pressionavam, continuamente, em favor de suas demandas.
A disputa aberta entre o governo federal e seus opositores agudizou-se e se expressou, em março de 1964, em duas grandes demonstrações de força.
A primeira delas foi o comício realizado diante da Estação da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, no dia 13, reunindo cerca de duzentas mil pessoas, para ouvir a forte manifestação do Presidente da República em favor do programa de reformas.
E alguns dias depois, em reação, a chamada “Marcha da Família com Deus pela Liberdade”, reunindo aproximadamente cem mil adeptos, em São Paulo, para protestar contra a alegada – e inexistente – “ameaça comunista” representada pelo governo janguista.
A partir desse momento, a conspiração contra o governo ocorria às claras, envolvendo não apenas a direita militar, sempre mais discreta, mas principalmente os Governadores dos principais Estados – Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul – com amplo apoio da chamada grande imprensa (com a exceção honrosa do jornal “Última Hora”, criado na década anterior para defender o legado de Getúlio Vargas e o trabalhismo).
Com a decretação do fim do sigilo temporário de inúmeros documentos oficiais daquele país, tem-se hoje a prova incontroversa de que os conspiradores contaram, não apenas com o suporte político dos Estados Unidos, como também com seu auxílio material, financeiro e pessoal, na concepção e desenvolvimento do plano de desestabilização do governo de Goulart.
O resultado foi que, malgrado os militares que encabeçavam o projeto golpista planejassem fazê-lo no fim de abril, o voluntarismo de um general – Olímpio Mourão Filho – precipitou o putsch no último dia de março, e graças à falta de resistência militar do governo constituído, a quartelada instalou no dia seguinte os rebeldes no poder, com o incentivo e apoio das classes dominantes e seus aliados.
A ditadura civil-militar (1964-85)
Ao contrário do que sustenta certa versão facciosa e interessada, desmentida pela reconstituição fática do período, a ditadura civil-militar instalada no Brasil na sequência do golpe de estado de 1º de abril de 1964, que se estendeu pelos vinte e um anos seguintes, foi marcada, desde o início, pela violência e pelo desrespeito sistemático aos direitos humanos e às prerrogativas da cidadania.
Os historiadores identificam no regime então implantado a primeira das “ditaduras de segurança nacional” instauradas, ao longo das décadas de 1960 e 1970, no cone sul da América do Sul, as quais se diferenciaram em muitos pontos dos governos ditatoriais unipessoais, de longa duração, vigentes nas repúblicas bananeiras do Caribe e da América Central – chefiados por personagens caricatos, como Trujilo, na República Dominicana, e Somoza, na Nicarágua.
Ao contrário destas, a nova modalidade de ditadura, inspirada na “doutrina de segurança nacional” – ideologia criada pela direita militar francesa, ao final dos anos 50 do século passado, ao depois aperfeiçoada e difundida pelos Estados Unidos – era orientada pelos objetivos políticos prevalentes no Ocidente durante a “guerra fria”, aos quais se deviam subordinar os próprios valores democráticos.
O conceito essencial da doutrina, que norteou as ações do sistema repressivo montado, desde o início, pela ditadura inaugurada em ’64, é o de “inimigo interno”, criação abstrata em torno da qual se articula o antagonismo discursivo essencial aos novos governantes: de acordo com esta concepção, o adversário a combater (o “subversivo”, ou ainda o “terrorista”) não é identificável facilmente – antes, ao contrário, está diluído, disperso em meio à população, onde atua disfarçado em prol do “movimento comunista internacional”.
Daí que, para combatê-lo, as garantias constitucionais e legais podem e devem ser suspensas, em nome dos superiores “objetivos nacionais permanentes” (outro conceito da doutrina).
Não por outra razão, aliás, desde os primeiros dias após o golpe, os novos governantes trataram de criar uma ordem jurídica sobreposta à própria Constituição, com a edição de “atos institucionais” e “atos complementares” – mediante os quais cassaram adversários políticos, professores, estudantes, líderes sindicais e servidores públicos, civis e militares; além de governar o País por meio de suas diretrizes autoritárias, impostas em todos os domínios da vida social, desde a administração pública até as atividades econômicas e culturais.
Além do mais, o regime ditatorial brasileiro distinguiu-se das demais ditaduras de segurança nacional que se sucederam nos países vizinhos naquele período, todas nela inspiradas – na Argentina, em duas oportunidades, 1966/1972, e em 1976/1983; no Chile, de 1973 a 1990; e no Uruguai, entre 1973 e 1985 – por uma interessante característica: em vez de adotar explicitamente uma política de extermínio dos oponentes, como ocorreu nestes países, os ditadores daqui trataram de prendê-los e julgá-los (sem prejuízo, é claro, de inúmeras execuções criminosas promovidas por seus agentes). E para tanto, editaram legislação específica – a “Lei de Segurança Nacional” – e instituíram justiça também especial, na verdade, adaptando para isso a justiça militar federal, que já existia, e à qual se atribuiu esta nova competência.
Da mesma forma, a ditadura brasileira manteve algumas instituições típicas da democracia liberal, fazendo-o, no entanto, de maneira limitada e controlada, como verdadeiros simulacros: assim ocorreu com a vida parlamentar, por intermédio da criação de dois partidos, um para apoiá-la, outro para exercer oposição limitada; as eleições, indiretas e apenas legislativas nos Estados e Municípios importantes, as diretas restritas às cidades pequenas e sem importância; a imprensa, submetida à censura prévia; os sindicatos, sob intervenção militar; as universidades, também vigiadas oficialmente por membros das Forças Armadas, o que de resto ocorreu em todo o serviço público.
Com isso, ao tempo em que, internamente, os governantes se utilizavam destes convenientes mecanismos de descompressão, sob controles rigorosos, também podiam enfrentar, no plano externo, as críticas feitas ao regime, sobretudo nos países europeus, que hospedaram naqueles anos milhares de exilados oriundos do Brasil.
Importa registrar que, malgrado estes engenhosos truques buscassem disfarçá-lo, a brutalidade marcou, desde o primeiro dia, o regime ditatorial brasileiro – responsável direto pela perseguição, cassação, demissão, exílio, sequestro e tortura de milhares de cidadãos e cidadãs. Além do mais, conforme registrado no Relatório Final da Comissão Nacional da Verdade (CNV), com base em profusa prova documental e testemunhal, o aparato repressor por ele instalado provocou a morte e/ou o desaparecimento forçado de, pelo menos, 434 (quatrocentos e trinta e quatro) pessoas.
Já a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, criada em 2002, que desde então realizou um excelente trabalho – revigorada no atual governo, depois de ter sido esvaziada de suas relevantes funções nos governos do usurpador Michel Temer e de seu sucessor – contabilizou ao menos 60.000 (sessenta mil) pessoas que ali comprovaram, documental e testemunhalmente, terem sido vítimas de sequestro, tortura, prisão ilegal, demissão, cassação, exílio e perseguição política, atos praticados pelos membros da chamada “comunidade de segurança nacional” – o aparelho montado pela ditadura para reprimir seus adversários reais, potenciais ou imaginários.
Em artigo publicado no “Correio do Povo”, em março de 2014, ao ensejo do cinquentenário do golpe, Juremir Machado da Silva reporta ainda outros números relativos à repressão ditatorial, resumidos pelo jornalista gaúcho Luiz Cláudio Cunha:
– 500.000 (quinhentas mil) pessoas investigadas;
– 200.000 (duzentas mil) pessoas detidas sob suspeita;
– 11.000 (onze mil) pessoas indiciadas em IPM’s (inquéritos policiais-militares);
– 707 (setecentos e sete) processos abertos na Justiça Militar Federal, contra 6.009 (seis mil e nove) pessoas denunciadas por “crimes contra a segurança nacional”;
– 1.792 (mil, setecentos e noventa e dois) réus ali condenados por estes delitos, 4 (quatro) dos quais à pena de morte (penas depois comutadas);
– 49 (quarenta e nove) juízes expurgados, além de 3 (três) ministros do STF cassados;
– 462 (quatrocentos e sessenta e dois) mandatos cassados;
– 1.148 (mil, cento e quarenta e oito) funcionários públicos cassados;
– 1.312 (mil, trezentos e doze) militares reformados compulsoriamente;
– cerca de 10.000 (dez mil) cidadãos e cidadãs exilado(a)s;
– 128 (cento e vinte e oito) cidadãos e cidadãs brasileiras, e 2 (dois) estrangeiros banidos;
– 1.202 (mil, duzentos e dois) sindicatos sob intervenção;
– 245 (duzentos e quarenta e cinco) estudantes universitários expulsos;
– Congresso Nacional fechado em 3 (três) oportunidades, e 7 (sete) Assembléias Legislativas estaduais colocadas em recesso.
Esta contabilidade trágica do regime instalado com o putsch de 1964, não permite mascarar sua natureza perversa, tampouco o atraso a que foi submetido o País, em todos os setores da sociedade, nas duas décadas seguintes. Somente o indisfarçável laivo de fascismo dos então governantes, pode explicar a inaceitável determinação de comemorar tão lamentável evento, entre 2019 e 2022 – medida corretamente vedada nos dois anos seguintes, após a assunção de um novo governo, de talhe democrático.
A repressão política no Rio Grande do Sul: a primeira etapa (1964/1968)
Como ocorreu em todo o território nacional, também o Rio Grande do Sul – terra de Vargas, Goulart e Brizola, e berço do trabalhismo – foi palco de inúmeras e graves violações a direitos humanos, durante os vinte e um anos da ditadura iniciada em 1964. Cabe relembrar que aqui, como de resto em todo o Brasil, o processo repressivo não se deu de forma uniforme e homogênea, podendo-se distinguir suas diferentes fases, de acordo com os alvos preferenciais e a natureza de suas ações.
Assim, na primeira metade da ditadura, cabe identificar duas etapas, a inicial, que transcorre entre os anos de 1964 e 1968; e a segunda, desde então até 1975. Não se trata de uma divisão artificial, pois estes períodos foram marcados pela diferenciada atuação dos aparelhos repressivos – os quais, diga-se, começaram a ser montados tão logo os novos dirigentes assumiram o poder.
Com efeito, a direita militar brasileira vinha preparando há tempos o golpe de estado, para isso treinando quadros, inclusive no exterior, desde a década de 1950 – e estes agentes, oriundos não apenas das Forças federais, mas também das policias civis e militares estaduais, trataram imediatamente de organizar e desencadear a repressão.
Neste momento, e nos primeiros anos da ditadura, os alvos prioritários da perseguição política eram as pessoas e grupos ligados, de alguma forma, ao governo deposto e seus aliados – os militantes trabalhistas e esquerdistas, até mesmo alguns políticos liberais que apoiaram Jango.
Outro objeto especial das ações repressivas iniciais foram os militares legalistas, que integraram ou foram fiéis ao governo derrubado. A propósito, os anais da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça informam que a profissão que registrou o maior número de pessoas perseguidas pela ditadura foi, precisamente, a militar – cerca de 7.000 (sete mil) militares, egressos das Três Armas federais e das Forças Públicas estaduais.
Além dos já citados, a atuação dos órgãos repressivos nestes tempos iniciais dirigiu-se também, de modo intenso, contra os líderes sindicais e trabalhadores vinculados à causa operária; bem como aos servidores públicos civis, professores universitários, estudantes do ensino médio e superior, e também aos profissionais liberais e jornalistas.
Desta maneira, já no próprio dia 1º de abril de 1964, começaram país afora as prisões arbitrárias de milhares de pessoas, acusadas genericamente de “subversão”, ou também, de “corrupção” (como se observa, esta já constituía então em álibi ideológico das ações repressivas da direita). E a seguir, ainda nas primeiras semanas após o golpe militar, teve início a chamada “operação limpeza”, consistente na submissão de inúmeros cidadãos e cidadãs às “Comissões de Inquérito”, conhecidas pelas siglas CI e CGI, das quais resultaram milhares de demissões, cassações, expurgos e exílios.
Este processo, que se prolongou ao longo dos dois ou três anos seguintes, não apenas atingiu amplos contingentes da população, como foi caracterizado pela intensa violência, física e moral, que lhes foi imposta. Ao contrário do que apregoa certa versão corrente entre os defensores da ditadura – segundo a qual a repressão foi apenas a reação aos atos extremistas dos “terroristas”, no início dos anos 1970 – assim que as novas autoridades assumiram suas funções, passaram de imediato a organizar o aparato estatal dirigido especificamente a reprimir os recalcitrantes à nova ordem imposta ao país, e não por acaso começam a acontecer os primeiros casos de sequestros, torturas e, mesmo, de mortes de adversários políticos.
A repressão política no Rio Grande do Sul apresenta algumas peculiaridades, como o fato de que a perseguição dirigida contra os servidores públicos estaduais, começou ainda antes da eclosão do golpe. Isto se deve a dois fatores, o primeiro de especial relevância na história do estado e do País, a já mencionada “Campanha da Legalidade”, desencadeada e liderada por Brizola, em agosto de 1961, quando era Governador do Rio Grande. Como dito antes, a forte mobilização por ele promovida da ampla maioria da população gaúcha, especialmente pelo uso das ondas do rádio, fez com que o movimento logo se espalhasse por outras Unidades da Federação, barrando o golpe parlamentar que os líderes conservadores pretendiam desfechar, com apoio militar, após a renúncia de Jânio Quadros, impedindo seu sucessor legítimo, o Vice Presidente João Goulart, de assumir o cargo vago.
Mas, apesar desta grande vitória política – que atrasou em quase três anos os planos da direita golpista – o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), de Brizola, perdeu as eleições para o governo estadual, realizadas no ano seguinte, vencidas por uma coalizão de siglas direitistas. Assim, já sob o governo de Ildo Meneghetti, ainda em 1963, os servidores civis do Estado e, principalmente, os integrantes da Brigada Militar que tiveram participação ativa na “Legalidade”, passaram a ser perseguidos e preteridos em suas funções.
Não se deve esquecer que a forte politização vivida à época em todo o País, envolvia também os setores do funcionalismo, inclusive a caserna, do que é exemplo a ativa militância dos brigadianos trabalhistas durante aquele episódio notável.
Pouco depois de se instalarem no poder, os golpistas desencadearam atos repressivos em todo o território rio-grandense, sob a condução dos militares e da polícia política. A título exemplificativo, cabe registrar o depoimento prestado, em audiência pública, à Comissão Estadual da Verdade do Rio Grande do Sul (CEV/RS) – criada para auxiliar os trabalhos da CNV – por líder sindical dos marítimos de Rio Grande, preso no próprio dia 1º de abril de 1964 e trancafiado, com mais duas dezenas de companheiros, em compartimento de um navio da Marinha do Brasil, o “Canopus”, então fundeado no porto daquela cidade.
Tal como sucedeu com estes sindicalistas, os presos eram trazidos de todo o estado para a capital, às dezenas, às centenas e, como não podiam ficar nos quartéis por muito tempo, nem se dispunha de outro local para confiná-los, permaneciam durante dias, semanas e até mesmo, em alguns casos, vários meses, no recém-inaugurado pavilhão do Sesme (ao depois Febem, e hoje Fase), situado no morro de Santa Teresa.
Ali foram interrogadas e, quase sempre, submetidas a maus tratos, físicos e psicológicos, milhares de pessoas, entre os anos de 1964 e 1967, das quais muitas foram sujeitadas às temíveis CGI’s e CI’s, e outras, em menor número, a processos criminais, primeiro perante a justiça comum, e depois diante da justiça militar federal.
Um dos alvos preferenciais da primeira fase da repressão, tanto no interior como em Porto Alegre, foram os membros dos chamados “grupos de onze”, criados por inspiração de Leonel Brizola, já então deputado federal eleito pela Guanabara, com consagradora votação. Inspirado no sucesso da mobilização popular levada a efeito na “Legalidade”, ele estimulava, a partir de programas veiculados pela Rádio Mayrink Veiga, a criação destas associações de cidadãos, reunidos para defender a reforma agrária. Durante a crise política que antecedeu o putsch, seus membros passaram a defender, de forma mais ampla, o programa de “reformas de base”, proposto e sustentado pelo governo de João Goulart.
Deve-se dizer a respeito que, ao contrário do que foi invocado como pretexto para reprimir seus integrantes, tratava-se de grupos de discussão política, e não foi registrada qualquer ação armada ou violenta de sua parte. Mesmo assim, numa demonstração inequívoca do caráter violento das ações repressivas iniciais do governo ditatorial, centenas de agricultores gaúchos foram presos, maltratados e humilhados, muitas vezes publicamente, sobretudo nas pequenas cidades da região noroeste do estado.
A segunda etapa da repressão (1968/1975)
Passado o impacto de suas ações repressivas iniciais – às quais se pode chamar de “horizontais”, pois se dirigiam contra todos os segmentos sociais – o regime ditatorial continuou seu recrudescimento paulatino, ao longo do restante da década de 1960, com o fechamento gradual de todos os espaços de manifestação política: partidos e organizações da sociedade civil; serviço público e universidades; sindicatos e imprensa; e, por fim, o movimento estudantil, última frente de protesto da cidadania.
Este processo de gradual e persistente endurecimento ficou marcado, ao final de 1968, pela edição do famigerado Ato Institucional n.º 05, que permitia aos todo-poderosos governantes determinar a suspensão, quando não a supressão, pura e simples, de todas as liberdades públicas e garantias e direitos, individuais e coletivos.
Data deste período o surgimento da maioria das organizações que passaram a atuar, clandestinamente, na oposição ao governo de fato – nem todas, diga-se de passagem, mas apenas uma parte delas adotando a chamada “luta armada”. De origem, natureza e tamanho variados, tinham em comum o objetivo de resistir e opor-se ao regime ditatorial e, malgrado as divergências, ideológicas ou táticas, atuavam muitas vezes em conjunto, revelando seus membros grande solidariedade, especialmente diante da repressão brutal de que foram vítimas.
Pode-se listá-los de acordo com suas quatro grandes vertentes. Assim, havia aqueles originados do Partido Comunista Brasileiro (o PCB, também conhecido como “Partidão”), fundado em 1922, o qual fora posto na clandestinidade em 1947 e pregava a resistência à ditadura dentro do partido legal de oposição (o MDB) – dos quais se pode citar o POC (Partido Operário Comunista), resultado da fusão de outros grupos. E também a Aliança Libertadora Nacional (ALN), dissidência do “Partidão” criada e liderada por Carlos Marighella, que pregava e praticava a guerrilha urbana como método de oposição à ditadura. Pode-se referir também, entre os grupos originados direta ou indiretamente do PCB, aqueles de matriz trotsquista, como a FBT (Frente Brasileira Trotsquista), e o PORT (Partido Operário Revolucionário Trosquista). E ainda o agrupamento criado, em Porto Alegre, por jovens estudantes do Colégio Júlio de Castilhos, ou dele egressos, denominado MR-21 (Movimento Revolucionário 21 de abril)
Do segundo tipo, havia o Partido Comunista do Brasil (PC do B), resultado de dissidência do “Partidão” surgida no final dos anos 1950, e que era então de tendência maoísta – o que se passava também com a Ala Vermelha. Ambas as organizações dedicavam-se inicialmente ao trabalho político de base junto ao operariado urbano, inclusive pela “integração à produção”, processo mediante o qual os militantes ingressavam na vida operária, trabalhando e vivendo com e como os trabalhadores da indústria.
Havia também a esquerda católica, reunida na Ação Popular (AP), forte movimento social que reunia desde clérigos até profissionais liberais, dedicados à organização política das camadas populares, exercendo forte influência entre os estudantes – por meio das entidades Juventude Estudantil Católica-JEC, e Juventude Universitária Católica-JUC.
Há, por fim, as organizações de tipo militarista, cuja influência ideológica varia desde o nacionalismo desenvolvimentista, até a revolução cubana. Destaca-se dentre elas a VPR (Vanguarda Popular Revolucionária), agrupamento guerrilheiro criado e liderado por Carlos Lamarca, capitão do Exército Brasileiro que dele desertou, para se dedicar à preparação da guerrilha contra o regime ditatorial. E também a VAR-Palmares (Vanguarda Armada Revolucionária-Palmares), originada da fusão do COLINA (Comando de Libertação Nacional) com outros grupos.
Tirantes poucas ações do MR-21, realizadas entre dezembro de 1967 e dezembro de 1968, não houve outros eventos do tipo no estado – ao contrário do que acontecia no centro do país, onde algumas organizações referidas fizeram vários ataques a alvos militares, ou “expropriações”, como eram denominados os roubos a bancos e outros estabelecimentos comerciais ou industriais, destinados a obter recursos financeiros para mantê-las, e aos seus membros. Esta é outra peculiaridade da história da oposição à ditadura no Rio Grande do Sul, que se explica pela necessidade de manter seu território fora do foco principal da repressão, devido à sua posição geográfica, favorável ao uso como corredor, seja para a fuga de militantes, seja para ingresso de armas e outros materiais, pela extensa fronteira com a Argentina e o Uruguai.
No entanto, a partir de 1969, com o recrudescimento da repressão aos seus militantes, no centro do País, os grupos clandestinos voltam os olhos para nosso estado. Maio daquele ano marca a vinda para cá de Edmur Péricles Camargo, personagem daí em diante muito importante para a resistência local armada à ditadura. Atuando ainda pela ALN, ele criou depois seu próprio grupo, de atuação restrita ao âmbito estadual – e que receberia o nome de M3G (Marx-Mao-Marighella-Guevara). A partir de sua chegada, e até abril do ano seguinte, Edmur foi responsável por liderar vários ataques a bancos, em Porto Alegre e na região metropolitana. A VPR, por sua vez, em março de 1970, ataca o carro-pagador do Banco Brasul e da Ultragaz, numa vila de Canoas.
Em março e abril daquele ano, ocorreram as duas maiores ações armadas praticadas à época em nosso estado, as quais desencadearam, em virtude de sua magnitude e significado, respostas repressivas altamente intensificadas. A primeira, em 18 de março, consistiu no assalto à agência do Banco do Brasil de Viamão, cometida por integrantes do M3G, VAR-Palmares e FLN (Frente de Libertação Nacional, grupo sobre o qual pouco se sabe). Apesar do êxito inicial da operação, ao longo das investigações que se seguiram o cerco policial começou a se fechar sobre seus participantes.
Poucos dias depois da ação de Viamão, em 05 de abril de 1970 houve a tentativa malograda de sequestro do cônsul estadunidense em Porto Alegre, encetada por militantes da VPR. Em face da repercussão do sequestro tentado contra autoridade consular dos EUA – a terceira das cinco ações desta modalidade praticadas no Brasil, naquele período – foi determinada a vinda ao estado de agentes do Centro de Informações do Exército (CIE), que atuavam no Rio de Janeiro, agentes estes especialmente treinados, até mesmo em escolas militares do exterior.
Eles foram responsáveis pela introdução, no Rio Grande do Sul, de métodos ditos “científicos” de tortura – em especial, a famigerada “maricota”, a infernal máquina portátil de infligir choques elétricos, invenção ianque trazida há pouco tempo ao Brasil – os quais, associados às tradicionais técnicas, usadas desde sempre pela polícia gaúcha contra os suspeitos de crimes comuns, levou em pouco tempo ao completo desbaratamento de todos os grupos clandestinos de resistência ao regime ditatorial, que aqui atuavam .
Graças ao uso intensivo e associado dos meios de suplício, novos e tradicionais, em pouco tempo os membros organizações antes mencionadas, estavam presos, em grande parte: com efeito, ao longo dos meses de 1970, “caíram” sucessivamente os membros da VAR-Palmares, da VPR, da ALN, do POC e do M3G, além de militantes nacionalistas que se associaram àqueles grupos. Em consequência, ao final do ano já estavam completamente debeladas as organizações clandestinas de luta armada que atuaram no estado – com a prisão, exílio ou mesmo morte de seus membros.
O grande expoente desta exitosa cruzada repressiva foi Paulo Malhães, então capitão do Exército, sinistro personagem, morto pouco tampo após prestar, à CNV e à Comissão Estadual da Verdade do Rio, depoimentos que estarreceram o Brasil, pelo misto de sinceridade e cinismo com que admitiu sua participação na morte de inúmeras pessoas, sem qualquer arrependimento.
Nos dois anos seguintes, o sistema repressivo aqui centrado no DOPS estadual – sob o comando direto dos militares federais – voltou suas ações contra integrantes das organismos trotsquistas, da AP e do PC do B, os quais, inclusive os últimos, sequer tinham optado à época,pela luta armada Ao longo de 1973, outros grupos clandestinos de menor expressão – além de trotsquistas e até mesmo anarquistas – foram também alvo de ações repressivas.
Assim, até o final do ano seguinte, não se registraram atividades de repressão mais significativas em nosso estado, e esse arrefecimento deve-se, seguramente, ao fato de que, à época, os agrupamentos clandestinos que se opunham à ditadura já tinham sido todos desmantelados.
No entanto, a aparente ociosidade daquele formidável aparato punitivo – que desfrutava de verbas secretas, efetivo autônomo e poder garantido pela impunidade – logo seria substituída por nova vaga repressiva, desta feita dirigida contra integrantes do PCB, os quais, depois das investidas sofridas nos primeiros anos após o golpe, não mais tinham sido perseguidos – até mesmo porque se opunham à luta armada, pregando a resistência pacífica dentro da oposição consentida, o MDB.
Com efeito, a partir da descoberta e “estouro” de gráficas do “Partidão”, no Rio e em São Paulo, em dezembro de 1974 e início do ano seguinte, seguiram-se prisões de centenas de seus dirigentes e militantes, nas principais cidades brasileiras. No estado, a partir de 18 de março de 1975 foram efetuadas as prisões – melhor seria dizer, os sequestros, de acordo com o habitual “modus operandi” dos agentes da repressão política – de cerca de vinte de seus partidários, acusados de tentar fazer funcionar “partido ou organização proibida”, o que era crime contra a segurança nacional.
Desta feita, a razia repressiva foi desfechada por agentes do DOI-CODI (Destacamento de Operações e Informação do Centro de Operações de Defesa Interna), órgão do Exército Brasileiro, baseados em dois quartéis da Força situados em Porto Alegre. Depois de sequestradas, as vítimas foram mantidas presas ilegalmente durante alguns dias, em locais clandestinos, onde foram submetidas a torturas diversas, antes de serem entregues à Polícia Federal – responsável pela elaboração de inquérito a ser remetido à Auditoria Militar Federal.
Os presos eram advogados, jornalistas, servidores públicos e ex-líderes sindicais, muitos deles com inserção social e conhecida atuação profissional, tratados todos com brutalidade absolutamente desproporcional ao risco nulo que representavam para o regime. Esta mesma violência desusada foi empregada nas prisões de membros do partido desencadeadas nas demais Unidades da Federação: exemplo disso foi a morte ocorrida naqueles dias, após torturas, do jornalista Wladimir Herzog, nas dependências do DOPS paulistano. E do operário Manoel Fiel Filho, também em São Paulo, alguns meses depois.
Tais ações são especialmente reveladoras quanto à sobrevivência ativa, ainda nos primeiros meses da administração de Ernesto Geisel – o quarto ditador, que assumira sob a égide do processo de abertura, “lenta, gradual e consentida” – das agências de repressão política criadas pelos governos ditatoriais. O paradoxo se explica: de um lado, a intensificação da ação repressiva da chamada “comunidade de segurança e informação” expressa o forte conflito vivido então no interior do regime, com o desafio proposto ao governo pela extrema direita militar, representada pelo ministro do Exército, o “linha dura” Sílvio Frota.
E de outra parte, o aparato de vigiar e punir do poder instituído precisava, continuamente, justificar-se e a os seus privilégios, corporativos e pessoais: de fato, a máquina de moer carne não podia parar.
As últimas fases da repressão (1975/1985)
Assim, durante o governo de Geisel, e também no início da gestão seguinte, de Figueiredo, sucederam-se atos típicos de “terrorismo de Estado” – com a finalidade de atribuir sua autoria aos adversários do regime e justificar seu endurecimento.
Desta natureza foram, por exemplo, a série de atentados contra bancas de revistas, prédios públicos, até mesmo da Polícia, perpetrados na cidade de São Paulo, por agentes do sistema repressivo. E, principalmente, no Rio de Janeiro, em 1980, o atentado no “RioCentro”, local com grande afluência popular, onde se apresentariam vários músicos para comemorar o 1º de Maio – e que, felizmente, foi abortado com o acionamento precoce de um petardo destinado a explodir durante o show, em virtude do que veio a morrer um e a ferir-se gravemente outro dos autores, ambos militares do DOI-CODI do I° Exército, sediado no Rio.
Desse período, e dessa mesma natureza, é outra ação criminosa patrocinada pelos beleguins do regime militar, ocorrida também na capital fluminense, e desta vez, lamentavelmente, com a produção de uma vítima fatal: a secretária da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, entidade de classe que, apesar de ter apoiado no início o golpe, com o passar do tempo assumiu protagonismo em defesa da cidadania, na luta contra a ditadura.
E no Rio Grande, nesta época, veio a ocorrer episódio altamente elucidativo sobre a permanência ativa, em plena “abertura” (como era autodenominado o governo do General Figueiredo) do sistema criado pelo regime ditatorial para perseguir e reprimir seus dissidentes: o sítio militar imposto, em julho e agosto de 1981, ao acampamento dos trabalhadores rurais sem terra, iniciado no ano anterior na localidade conhecida como “Encruzilhada Natalino”, situada entre os municípios de Sarandi e Ronda Alta, na região do Planalto Médio gaúcho.
Tratava-se de mobilização de centenas de famílias de agricultores, desalojadas das terras em que trabalhavam, visando à adoção pelas autoridades estaduais de providências no sentido de assentá-las. O fato ganhou destaque na mídia, e diversas entidades da sociedade civil, dentre elas a OAB e sindicatos, apoiavam publicamente o movimento camponês, mantendo a pressão sobre os governos, federal e estadual, para atender suas demandas.
Em resposta, estes últimos, em vez de atenderem à justa reivindicação dos agricultores, apelaram para a solução autoritária. Assim é que foi chamado, e veio ao estado o então major do Exército Sebastião Rodrigues de Moura, conhecido como “Curió” – notório agente da repressão política, que participara, entre outras ações repressivas, da campanha militar contra a chamada “guerrilha do Araguaia”, no início da década anterior.
Ele chegou ao local do acampamento no final de julho de 1981 e desde logo instalou, com os agentes do CIE a seu comando, o cerco militar da área. Assim, o lugar foi transformado em verdadeiro campo de concentração, onde os camponeses sitiados foram submetidos às mais diversas técnicas de tortura moral e psicológica – que incluíam ameaças, ruídos noturnos produzidos em aparelhagem de som, poluição das fontes de águas e promessas de recompensas aos que se dispusessem a abandonar o movimento.
Ao fim daquele mês, devido aos contínuos constrangimentos exercidos, cerca de cem famílias saíram do acampamento a fim de serem assentadas no estado de Mato Grosso – onde, ao que consta, parte delas ainda viveriam. Malgrado isso, a maioria dos agricultores acampados resistiram, e somente algum tempo depois do levantamento do cerco abandonaram o acampamento, vindo a ser assentados em outras localidades.
Este acontecimento reveste-se de grande importância histórica, pois revela a manifestação, aparentemente tardia, dirigida desta feita contra os movimentos sociais, do sistema repressivo ditatorial – sistema este representado pela figura de militar especialmente treinado, inclusive no exterior, em técnicas de repressão, e já conhecido por sua atuação em outros episódios do gênero.
Percebe-se, portanto, que enquanto durou o regime de exceção, permaneceram ativos os aparatos montados para vigiar e reprimir os oponentes e, mesmo, a população em geral. Não bastasse isso, estas agências e seus agentes continuaram trabalhando, embora de maneira dissimulada e informal, ao longo do período da transição – o governo da chamada “Nova República”.
Pior ainda: mesmo depois de inaugurado o novo período democrático, com a promulgação da Constituição de 1988 e a realização de eleição presidencial direta, no ano seguinte, e até nossos dias, seguem vigentes instituições, práticas e ideologias gestadas na ditadura instaurada em 1964. Senão, vejamos.
Os perversos legados da ditadura de 1964:
(i) A militarização das polícias estaduais
Antes do golpe de estado de 1964, as Forças Públicas dos Estados – entre nós, a Brigada Militar – tinham funções distintas das que têm hoje: eram organismos militares vinculados aos Governos estaduais, destinados ao controle da ordem pública, em casos de necessidade. O policiamento ostensivo até então era atribuição precípua das Guardas Civis, organizações autônomas ou segmentos fardados das polícias civis dos Estados; as Forças Públicas exerciam esta tarefa apenas em caráter complementar – por exemplo, em zonas rurais, ou em pequenos municípios, à falta de guardas civis.
Seguia-se à época o desenho institucional adotado até hoje nas principais democracias ocidentais, fiéis à orientação de que a função policial – tanto preventiva, quanto repressiva – é essencialmente civil. Com efeito, o poder-dever do Estado em evitar e reprimir as condutas socialmente indesejáveis, efetiva concretamente o monopólio legal do uso da força e, por isso, deve ser necessariamente exercido sob o comando direto das autoridades públicas legitimamente constituídas – submetidas, elas próprias, nos diferentes níveis dos Poderes, ao controle popular democrático.
Apesar disso (ou por isso mesmo), já nos primeiros anos após a implantação da ditadura, os novos governantes trataram de alterar radicalmente o modelo jurídico-político das polícias brasileiras, sob o influxo da mencionada ideologia da segurança nacional, que passou a presidir as ações governamentais em todos os graus e instâncias. As Guardas Civis foram extintas e incorporadas às polícias civis estaduais, enquanto as Forças Públicas foram transformadas em Polícias Militares (PM’s), às quais foi confiado, com exclusividade, o exercício do policiamento ostensivo.
Importa referir que ambas as polícias – civil e militar – no âmbito estadual, subordinavam-se diretamente às autoridades militares do Exército: tanto as Secretarias de Segurança Pública, quanto as Chefias de Polícia, eram confiadas a oficiais escolhidos em Brasília. Neste novo quadro, pois, as renovadas Polícias Militares eram concebidas como “forças auxiliares” do Exército Brasileiro, a ele diretamente ligadas por meio da escala de comando federal estabelecida nos Estados.
Tal mudança não foi apenas estrutural, mas de fundo: o policiamento ostensivo, e também o repressivo, tornaram-se assunto de “segurança nacional”, a ser tratado sob os ditames da doutrina respectiva – os quais foram anteriormente descritos neste artigo. E importa, sobretudo, destacar aqui que esta transformação das milícias estaduais em polícias submetidas ao poder federal, organizadas militarmente, nos moldes da ideologia da segurança nacional, exerce perniciosos até os dias de hoje.
Isso porque, passados quase quarente anos do fim da ditadura, a formação de seus agentes continua sendo feita sob seus princípios. Por conseguinte, as ações policiais a seu encargo também seguem o mesmo padrão, a partir do conceito básico do “inimigo interno”, a que já se aludiu acima. Mudou apenas o objeto da repressão – dirigida não mais contra “subversivos” ou “terroristas”, mas agora contra os “marginais”, ou os “vagabundos”, ou ainda, a “bandidagem”, os novos alvos preferenciais do antagonismo discursivo.
Os estudiosos da questão destacam a incompatibilidade absoluta do tratamento militar da segurança pública – em especial sob os postulados da famigerada doutrina em questão – uma vez que amplos setores populacionais (não por acaso, os mais humildes), necessariamente se tornam objeto de vigilância e repressão seletivas, como decorrência da lógica de que o novo inimigo interno encontra-se neles diluídos.
O policiamento ostensivo em uma sociedade democrática, por certo, deveria partir de premissa fundamentalmente contrária – a partir da consideração de que toda a população, e em especial suas camadas mais vulneráveis, deve ser objeto da proteção, e não da persecução policial seletiva. Apesar disso, a concepção militar que continua dirigindo as ações de polícia ostensiva no Brasil – uma das tantas heranças malditas do período ditatorial – é a responsável direta pela brutalidade institucionalizada das Polícias Militares, direcionada preferencial quando não exclusivamente contra os segmentos desfavorecidos, e majoritários da sociedade brasileira – pobres, jovens, negros e pardos, habitantes das periferias das cidades grandes e médias.
(ii) a tortura institucionalizada
Muito embora não se lhe possa, evidentemente, imputar a criação da tortura, o regime ditatorial não apenas fez dela uso sistemático, como ainda a ampliou e “modernizou”; e, o que é pior, a institucionalização desta prática criminosa durante o período, nos organismos policiais e prisionais, vige até nossos dias.
Com efeito, as polícias brasileiras, desde os tempos da Colônia, passando pelo Império e pela República Velha, até chegar à segunda metade do século passado sempre agiram à base de maus tratos infligidos, sistematicamente, tanto contra meros suspeitos ou indiciados em inquéritos ou ações de rotina, quanto a réus e condenados.
A violência policial, não apenas, mas especialmente no Brasil, mais do que um método de trabalho, sempre foi uma rotina. Por isso, diz-se que ela é “institucionalizada”: sua adoção, longe de constituir um desvio de conduta pessoal do servidor, compõe o próprio “modus operandi” das instituições policiais, consideradas em sentido lato.
Sendo assim, com a instauração da ditadura, as autoridades responsáveis pela montagem do aparelho repressivo político – criado imediatamente após o triunfo do golpe de estado – trataram desde logo de incorporar-lhe parcelas dos efetivos policiais então existentes nos Estados, submetendo-os aos militares das áreas de inteligência e repressão, no que viria a se constituir a “comunidade de segurança e informação”.
Em consequência, com o tempo passou a ocorrer interessante intercâmbio, entre as formas tradicionais de atuação das polícias comuns, e os novos métodos de trabalho, introduzidos pelos agentes formados no exterior, ainda antes do golpe – no Panamá (“Escola das Américas”), nos EUA (“Ponto Quatro”, na Carolina do Norte), na França e na Argélia, entre outros países.
Este fenômeno pode ser sintetizado, simbolicamente, pelos dois mais conhecidos instrumentos de suplício até hoje usados no Brasil: o “pau de arara”, diabólica invenção dos capitães de mato para afligir escravos rebeldes – e transmitido pelos beleguins estaduais aos agentes do sistema repressivo político; e a “maricota”, famigerada máquina portátil de desferir choques elétricosinventada pelos norte-americanos – e legada à polícia comum, após o fim da ditadura.
É preciso reconhecer, ademais, que malgrado a Constituição de ‘88 tenha introduzido importantes alterações institucionais no sistema de justiça, e nos subsistemas correlatos – polícia judiciária, ministério público, advocacia e defensorias públicas, sistema penitenciário – pouco se avançou na erradicação da tortura. Se, por um lado, a imposição de controles judiciais sobre as atividades dos policiais civis acarretou sensível redução na sua prática, de parte dos mesmos, isto não ocorreu em relação às ações dos policiais militares, bem como no âmbito de presídios, penitenciárias e centros de detenção de jovens infratores, onde os abusos físicos e psicológicos sobre os reclusos constituem a lastimável regra.
Vários fatores contribuem para este quadro deplorável – a começar, pela secular tolerância, quando não aceitação da tortura por amplos segmentos sociais, fenômeno cultural que se deve basicamente à escravidão, chaga que marcou o País ao longo de trezentos e cinquenta anos – e que findou há pouco mais de cem anos, não muito, historicamente falando. Por certo, o fato de sermos a última nação a abolir a escravatura, marcou e continua marcando a alma nacional, como alertava o grande Joaquim Nabuco. E dentre tantos outros efeitos perniciosos, legou-nos a convivência habitual e, pior que isso, a legitimação dos castigos físicos, assim na esfera pública, como no âmbito privado – contra os escravos e criados, mas também contra mulheres e crianças.
Além da vigência mal disfarçada desta cultura da violência, em todos os domínios da vida, individual e coletiva, não se pode desconsiderar, igualmente, como importante fator para a institucionalização da tortura, a estimulação contínua dos extratos médios e populares pelo discurso de “lei e ordem”, difundido diuturnamente pelos meios de comunicação de massa.
Tampouco se pode esquecer a omissão na criação, quando da redemocratização do país, de instrumentos de justiça de transição, que permitissem a oportuna exposição e desmontagem das instituições repressivas engendradas durante o regime de exceção – tema ao qual se voltará na conclusão deste trabalho.
(iii) o oligopólio dos meios de comunicação
Os grupos que dominavam a imprensa brasileira, nas décadas que antecederam o golpe de estado de 1º de abril de 1964, tiveram decisiva participação na sua preparação e eclosão – à exceção da “Última Hora”, que apoiava João Goulart. É preciso lembrar que a televisão, ainda incipiente, não exercia a influência que passou a exercer posteriormente; à época, a chamada opinião pública – ou seja, a opinião publicada – era construída a partir do rádio, do cinema, e dos jornais e revistas, de âmbito nacional ou regional.
No início da década de 1960 e, em especial após a posse de Jango, à medida que o embate entre os adversários e defensores de seu governo tornava-se cada vez mais agudo, os principais periódicos de circulação nacional – os diários “Jornal do Brasil”, “Estado de São Paulo”, “Diário de Notícias”; e as revistas – “O Cruzeiro”, “Manchete”, “Fatos e Fotos”, publicados nas principais capitais brasileiras, davam o tom conservador, quando não reacionário, no debate político então travado no Brasil.
A estas publicações se somavam as principais emissoras radiofônicas, pertencentes a grandes grupos, que também atuavam em rede, atingindo todo o território brasileiro (por exemplo, as “Rádios Tupi”), as quais igualmente se dedicavam à propaganda política aberta contra o programa de reformas de base proposto por Goulart, chegando mesmo a pregar golpe institucional – que impedisse a “cubanização” do Brasil, ou sua alegada transformação em república sindicalista ou, pior ainda, comunista…
O jornalista e escritor gaúcho Flávio Tavares, em livro que veio a lume ao ensejo do cinquentenário do golpe de 1964, usando a documentação liberada pelo Pentágono – inclusive as conversas gravadas, no Salão Oval da Casa Branca, entre John Kennedy e o então embaixador norte-americano no Brasil, Lincoln Gordon, o grande artífice do putsch – mostra que aqueles veículos prestaram-se à farta divulgação das matérias gestadas pelos órgãos criados especialmente para preparar a opinião pública, visando à obtenção do consenso de parte da população para a intervenção militar em marcha.
Tratava-se de dois institutos – o “IPÊS” e o “IBAD” – compostos e dirigidos por intelectuais muito bem remunerados, que se encarregavam de produzir artigos, notícias, manchetes espetaculares, programas radiofônicos, peças de propaganda e documentários cinematográficos, distribuídos aos jornais, rádios e cinemas, em todo o país. Graças à contínua divulgação deste material, sob o pano de fundo da “guerra fria” e da radicalização da disputa política, ampliava-se continuamente a demanda da direita pela deposição de um Presidente da República legitimamente eleito, e que contava com grande apoio popular – inclusive ao seu programa de reformas, antes referido.
Não por outra razão, Juremir Machado da Silva, usando conhecido conceito de Antonio Gramsci, aponta que os integrantes das mídias brasileiras portaram-se à época como verdadeiros “intelectuais orgânicos” a serviço do poder político das oligarquias golpistas, exercendo a função de legitimação de suas manobras – ajudando a incutir o apoio à quebra institucional em parte minoritária, mas influente da sociedade brasileira.
Em decorrência, os grandes barões da mídia foram desde logo contemplados pelos novos governantes. É por demais conhecida a forma pela qual uma empresa jornalística menor, limitada a uma posição secundária no Rio de Janeiro, foi auxiliada pelos governos militares na constituição, a partir do final dos anos 1960, do mais poderoso grupo midiático do país – cujo noticioso televisivo noturno serve, há décadas, como diário oficial de sua consciência pequeno-burguesa; e cujas telenovelas, também há décadas, dedicam-se ao entretenimento alienante e catártico do povo brasileiro.
Em nosso estado, e não por acaso apenas dois meses após sua chegada ao poder, os ditadores recém-instalados praticamente doaram o espólio da “Última Hora” local ao detentor de uma rádio até então pouco influente; desde então, e impulsionada com a concessão de televisão associada à “Rede Globo”, formou-se o grupo que desalojou a empresa “Caldas Júnior” no posto de “formador da opinião” dos sul-rigrandenses. Histórias como esta se repetiram nos demais estados.
Por conseguinte, aos conglomerados jornalísticos acima mencionados, que auxiliaram os ditadores, antes, durante e depois do golpe, vieram somar-se novos consórcios empresariais, nos planos nacional e regional. Assim, ao longo dos vinte e um anos de ditadura – e também após a democratização do país, em 1988 – a mídia assumiu no Brasil nítida feição oligopólica, em processo que, a exemplo de outros tratados neste espaço, tem raiz no período de exceção.
Com efeito, além do regime de concessões de rádio e televisão, que auxilia a perpetuação das oligarquias estaduais, a instituição da propriedade cruzada e privada dos órgãos de informação tem permitido, até nossos dias, o nefasto contubérnio entre o poder político daquelas, e econômico dos donos da comunicação pública, colocada a serviço de interesses particularistas. O quadro se completa com a fonte de financiamento do sistema – os anunciantes, destacando-se as principais corporações empresariais, sobretudo financeiras, além dos governos e empresas públicas.
Tem-se, pois, como outra sequela perversa da ditadura militar imposta ao Brasil há seis décadas, um sistema midiático altamente concentrado, que atua permanentemente em favor das elites mais atrasadas, das grandes empresas e da finança rentista. Sistema composto por um sem-número de meios – sobretudo as emissoras de rádio e de televisão – de propriedade, no entanto, de apenas meia-dúzia de famílias. E o que é pior: veículos que se dedicam diuturnamente à manipulação ideológica de suas crescentes audiências, mediante a espetacularização dos temas tratados – criminalidade, política, religião, futebol; ou pela contínua divulgação de discursos francamente retrógrados, articulados para mobilizar os estratos médios e populares – lei e ordem e rejeição da política; homofobia e misoginia; intolerância religiosa e racismo.
Conclusão
A presença da ditadura civil-militar de 1964, quase quatro décadas de seu encerramento oficial, em várias esferas da sociedade brasileira – como se procurou demonstrar acima – deve-se seguramente a muitos fatores, de ordem variada, estranhos ao escopo deste despretensioso trabalho. Cabe aqui salientar, sobremodo, uma das causas para a permanência, ainda nos dias atuais, das deletérias sequelas do período ditatorial: o atraso e as deficiências do processo de justiça de transição no Brasil pós-redemocratização.
Trata-se este – justiça de transição – de conceito fundamental no Direito Penal Internacional e no Direito Humanitário contemporâneos, que se poderia assim resumir: conjunto de práticas e mecanismos, políticos e jurídicos, judiciais e extrajudiciais, que têm por objetivo precípuo permitir a passagem de regimes violentos, antidemocráticos ou de exceção, para a vida democrática. Este processo deveria acompanhar sempre a implantação da normalidade democrática em nações que viveram guerras civis, invasões por outro país ou ditaduras.
No Brasil, diferente do que ocorreu no Uruguai e, principalmente, na Argentina, este processo transcorreu de forma tardia e truncada. Concluída a transição e implantada a democracia no país, em 1988, tendo como marco a promulgação da nova Constituição Federal, somente sete anos depois, em 1995, por pressão de setores da sociedade civil, foi instalada a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos (Lei Federal n. 9.140/95) – que tendo realizado ótimo trabalho, na busca dos restos mortais das pessoas vitimadas na ditadura e ainda desaparecidas, foi extinta no governo passado, e inexplicavelmente ainda não foi recriada.
Posteriormente, foi editada a Lei Federal n. 10.559, de 2012, que criou a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, a qual, como já referido acima, desde sua instalação efetivou a reparação social, financeira e jurídica de milhares de pessoas – perseguidas, demitidas, cassadas, exiladas, presas, torturadas e, até mesmo mortas durante os vinte e um anos do período ditatorial.
Ela também estimulou a produção de inúmeros trabalhos e obras sobre o tema, e promoveu quase 100 (cem) “Caravanas da Anistia”, cerimônias realizadas em diversos locais do país, nas quais, além da reparação às violações praticadas a seus residentes, o Estado Brasileiro apresentou desculpas públicas por elas. Depois do golpe parlamentar de 2016, a Comissão de Anistia, embora tenha sido mantida, foi esvaziada por completo de suas relevantes funções, naquele e no governo seguinte – mas foi, felizmente, reativada desde o ano passado pelas novas autoridades.
A criação em 2011, também por lei, da Comissão Nacional da Verdade (CNV), instalada no ano seguinte, constituiu a terceira etapa do processo de justiça de transição brasileiro – com a finalidade expressa de reconstituir a história das graves violações a direitos humanos praticadas no Brasil, especialmente durante o regime militar (Lei Federal n. 12.528/2011). Devido à relevância e magnitude da tarefa e da exiguidade do prazo inicialmente previsto para tanto, por solicitação de seus membros, a Presidenta Dilma instou os Governadores dos Estados a que criassem, nos seus respectivos âmbitos, comissões oficiais destinadas a auxiliá-la em seu trabalho.
Em decorrência, o governador Tarso Genro instituiu a Comissão Estadual da Verdade do Rio Grande do Sul (CEV/RS), por meio do Decreto n. 49.380/2012. Ambas, CNV e CEV/RS, concluíram seus trabalhos em dezembro de 2014; e outras comissões oficiais, estaduais ou municipais, ainda continuaram as atividades até o encerramento de seus respectivos prazos, nos dois anos seguintes. Malgrado todos estes Colegiados tenham, a partir da memória de milhares de vítimas, testemunhas e, inclusive, de seus autores, reconstituído a verdade sobre as graves violações a direitos humanos praticadas durante a ditadura de 1964-85, não se logrou com isso restaurar efetivamente a justiça – terceira parte do trinômio básico e objetivo maior do processo de justiça de transição.
E isso porque, assim que reeleita, ao final de 2014, a Presidenta da República passou a sofrer violenta campanha de desestabilização, orquestrada pela mídia oligopólica, que redundou no seu ilegítimo impedimento, dois anos após. O violento vendaval político então desencadeado não permitiu, pois, que a nação tomasse o devido conhecimento das violências criminosas praticados durante a ditadura inaugurada há sessenta anos. Tem-se assim que, lamentavelmente, a manutenção das chamadas “políticas de esquecimento” em relação àquele período, continua contribuindo para a ocultação à cidadania brasileira, da real natureza e dos efeitos pérfidos do regime de exceção então vigente.
Esta é, sem dúvidas, uma das principais causas das sérias ameaças vividas por nossa frágil democracia, do que são veementes exemplos a intentona frustrada de 8 de janeiro do ano passado, e as manobras golpistas encetadas em 2022, antes e depois da eleição presidencial – as quais acabam de ser reveladas graças às investigações em boa hora determinadas pelo Supremo Tribunal Federal.
Referências:
PADRÓS, Henrique, et allii, org.; “A Ditadura de Segurança Nacional no Rio Grande do Sul (1964-1985): História e Memória”, 4 vols.; Porto Alegre, CORAG, 2009.
RODEGHERO, Carla Simone; GUAZZELLI, Dante Guimaraens; DIENSTMANN, Gabriel; “’Não Calo, Grito’- Memória Visual da Ditadura Civil-Militar no Rio Grande do Sul”; Porto Alegre, ed. Memorial da Anistia, 2.013.
TAVARES, Flávio; “1964”; Porto Alegre, LPM, 2014.
SILVA, Juremir Machado da Silva; “1964-golpe midiático-civil-militar”.
Relatório Final da Comissão Estadual da Verdade do Rio Grande do Sul, in “Relatório Azul 2014 – edição especial”, publicação da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado; Porto Alegre, 2015.
***
Fortaleça a Astec!
ASTEC – Diretoria Executiva 2023/2024
DEMOCRACIA, RESISTÊNCIA & UNIÃO
 Astec Associação dos Técnicos de Nivel Superior do Município de Porto Alegre
Astec Associação dos Técnicos de Nivel Superior do Município de Porto Alegre